– De repente há um livro, muitas folhas, poemas, filões de imagens, ritmos, símbolos.
– Sou um autor de folhetos. Um dia alguém perguntou-me: porque não reúne tudo? De facto, porque não? E apareceram livros, esse livro “Poesia Toda”. O que me surpreendeu não foi o volume, enfim, não tão grande como isso, contudo para mim próprio de uma espessura inesperada, não foi o volume do volume mas a sua forma coesa, a coesão interna, isso, claro, surpreendeu-me bastante.
– Sou um autor de folhetos. Um dia alguém perguntou-me: porque não reúne tudo? De facto, porque não? E apareceram livros, esse livro “Poesia Toda”. O que me surpreendeu não foi o volume, enfim, não tão grande como isso, contudo para mim próprio de uma espessura inesperada, não foi o volume do volume mas a sua forma coesa, a coesão interna, isso, claro, surpreendeu-me bastante.
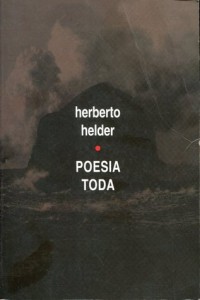 – Surpreendeu-o ter alcançado uma forma coesa?
– Surpreendeu-o ter alcançado uma forma coesa?– Escreve-se um poema devido à suspeita de que em quanto o escrevemos algo vai acontecer, uma coisa formidável, algo que nos transformará, que transformará tudo. Como na infância, quando se fica à porta de um quarto obscuro e vazio. Fica-se durante um minuto uma brisa levanta-se nos confins da obscuridade: um redemoinho no ar, uma luz, uma iluminação talvez? Estamos prontos para o assentimento. Outro minuto, cinco, dez, ali, diante do anúncio suspenso e ameaçador: não acontece nada. Poder-se-ia esperar um dia inteiro, dias seguidos. Às vezes pára-se no meio de um jardim ou de um parque ou de uma avenida deserta. São variantes do quarto. Acontece o mesmo, quero dizer: não acontece nada. A suspeita apenas de que nos aguarda uma espécie de graça reticente, um dom reticente. Ou contempla-se um rosto, alguém que se ama, um ser imediato; ou então um rosto desconhecido, defendido. Pensamos: é uma vida nova, uma força nova e profunda, é uma paisagem misteriosa, profunda e nova que se relaciona intimamente connosco: vai revelar-se. E a outra pessoa olha para nós perdida nas perspectivas inquietas da nossa contemplação. E recomeça-se. O mesmo, sempre. Nada. Por isso surpreendeu-me a, vírgula, digamos, coerência vertical do volume, e o seu comprimento de onda, a estria da música reiterada. Porque os folhetos, cada poema, cada expectativa escrita, não conduziram a qualquer revelação em torno da qual se organizasse um… um sistema… poderei dizer: um sistema?…, não, não: uma imagem, uma metáfora geral. Seria esta teoria obsessiva de anunciações, de esperas, a mesma anunciação, a mesma espera, a pergunta repetida, seria a recorrência a que dava unidade e vitalidade ao conjunto? O que lhe dava a possível realidade?
– Qual era a pergunta?
– Não houve nenhuma resposta, nenhuma revelação. Não sei que pergunta era.
– Não houve nenhuma resposta, nenhuma revelação. Não sei que pergunta era.
– Escreve-se por isso, por uma esperança?
– Chamar-lhe esperança… Chamemos-lhe antes… Bem, atenção, suspeita, tentação… Escrevi para fornecer uma forma legível e apaziguadora aos momentos na porta do quarto, no parque, na rua vazia, defronte do rosto aparecido. Escrevi para trás numa espécie de engolfamento memorial. Não consegui nada. Foi continuar no quarto, no jardim, à frente das caras súbitas. Mas conheço agora a existência de uma pergunta inesgotável que se formula, se assim posso dizer, pela objectivação dos arredores evasivos, das alusões, dos sinais remotos.
– Chamar-lhe esperança… Chamemos-lhe antes… Bem, atenção, suspeita, tentação… Escrevi para fornecer uma forma legível e apaziguadora aos momentos na porta do quarto, no parque, na rua vazia, defronte do rosto aparecido. Escrevi para trás numa espécie de engolfamento memorial. Não consegui nada. Foi continuar no quarto, no jardim, à frente das caras súbitas. Mas conheço agora a existência de uma pergunta inesgotável que se formula, se assim posso dizer, pela objectivação dos arredores evasivos, das alusões, dos sinais remotos.
– E para que serviu escrever se toda a contabilidade acaba aí, na mesma pergunta recorrente?
– Não se coloca o tema da utilidade, porque, pergunto: em que âmbito é útil seja o que for? Interessa-me este resultado: o de que em mim, expressando-se em gramática, em pauta, há uma expectativa ardente, uma ardente pergunta sem resposta, uma perplexidade ardente que me concedem um centro, um ponto de vista sobre a debandada das coisas, coisas centrífugas para diante, nos dias, no caos dos dias, centrífugas para trás, nos instantes mais densos da memória, átomos fosforescendo no caótico fluxo da memória. E então eu sei: respiro nessa pergunta, respiro na escrita dessa pergunta. Qualquer resposta seria um erro. Como eu próprio sugeri algures: um erro das musas distraídas.
– Não se coloca o tema da utilidade, porque, pergunto: em que âmbito é útil seja o que for? Interessa-me este resultado: o de que em mim, expressando-se em gramática, em pauta, há uma expectativa ardente, uma ardente pergunta sem resposta, uma perplexidade ardente que me concedem um centro, um ponto de vista sobre a debandada das coisas, coisas centrífugas para diante, nos dias, no caos dos dias, centrífugas para trás, nos instantes mais densos da memória, átomos fosforescendo no caótico fluxo da memória. E então eu sei: respiro nessa pergunta, respiro na escrita dessa pergunta. Qualquer resposta seria um erro. Como eu próprio sugeri algures: um erro das musas distraídas.
– Que dizer?…
– Quero eu dizer que qualquer resposta seria uma arrogância, um erro para os resultados da acção. O conceito célebre, o celebérrimo, de que o poema é um objecto –bom, tornou-se um lugar-comum, já nem sequer se pensa nisso, diz-lo toda a gente: os poemas são objectos–, ora esse conceito estabeleceu-se num terreno móvel, movediço, sim objectos, mas como paramentos, ornamentos e instrumentos: as máscaras, os tecidos, as peles e tábuas pintadas, os bastões, as plumas, as armas, as pedras mágicas. É prático sempre o uso que deles se faz, uma resposta necessária ao desafio das coisas ou à sua resistência e inércia. No entanto, repare, ou actuamos nas zonas do quotidiano de onde não foi afugentado o maravilhoso ou existem outras zonas, um quotidiano da maravilha, e então o poema é objecto carregado de poderes magníficos, terríficos: posto no sítio certo, no instante certo, segundo a regra certa, promove uma desordem e uma ordem que situam o mundo num ponto extremo: o mundo acaba e começa. Aliás não é exactamente um objecto, o poema, mas um utensílio: de fora parece um objecto, tem as suas qualidades tangíveis, não é porém nada para ser visto mas para manejar. Manejamo-lo. Acção, temos aquela ferramenta. A acção é a nossa pergunta à realidade: e a resposta, encontramo-la aí: na repentina desordem luminosa em volta, na ordem da acção respondida por uma espécie de motim, um deslocamento de tudo: o mundo torna-se um facto novo no poema, por virtude do poema –uma realidade nova. Quando apenas se diz que o poema é um objecto, confunde-se, simplifica-se; parece realmente um objecto, sim, mas porque o mundo, pela acção dessa forma cheia de poderes, se encontra nela inscrito: é registo e resultado dos poderes. E temos essa forma: a forma que vemos, ei-la: respira, pulsa, move-se –é o mundo transformado em poder da palavra, em palavra objectiva inventada, em irrealidade objectiva. Se dizemos simplesmente: é um objecto – inserimos no elenco de emblemas que nos rodeia um equívoco melindroso, porque um objecto pode ser útil ou decorativo, e a poesia não o pode ser nunca. É irreal, e vive.
Quando olho para esse livro, vejo que não fabriquei ou construí ou afeiçoei objectos –estas palavras não supõem o mesmo modo de fazer–, vejo que escrevi apenas um poema, um poema em poemas; durante a vida inteira brandi em todas as direcções o mesmo aparelho, a mesma arma furiosa. Fui um inocente, porque só se consegue isso como inocência. E se a inocência é uma condição insubstituível do escândalo, uma transparente e mobilizadora familiaridade com a terra, constitui, também um revés: pois há uma altura em que se sabe: as coisas ludibriaram-nos, ludibriámo-nos nas coisas; a inocência deveria ter-nos oferecido uma vida estupenda, um tumulto: o ar em torno proporcionado como pura levitação; ver, tocar; os mais simples actos e factos próximos como instantâneo e completo conhecimento. Era assim, foi assim, mas a dor, as vozes demoníacas, o abismo junto à dança, a noite que se vai insinuando a toda a altura e largura da luz, tudo isso invade a inocência –e então já não sabemos nada, por exemplo: será inocente a nossa inocência? A inocência é um estado clandestino na ditadura do mundo; tem de ser astuta, tem de recorrer a todas as torpezas para lutar e escapar; seduz as criaturas, responde à memória com a memória, a sua fala perante o demoníaco entretece-se com a fala demoníaca. E temos assim a inocência envolvida nas turvações da guerra, e é o guerreiro quem alimenta a guerra, é ele que alimenta o outro guerreiro, a sombra. Na verdade a inocência não existe, não existe o demoníaco, senão como partes dinâmicas de um poder, e não exprimo aqui nenhuma ideia moral, política, institucional, mas uma ideia da ordem das coisas, forças e expressões. A magia, esse reino tão complexo de poder, é um casamento natural mas dramático, uma coordenada desavença de níveis de consciência, formulações do desejo, domínios da realidade, debates da pessoa com a realidade. O objecto que eu agito mortiferamente é uma arma ambígua. Como se eu estivesse metido numa espécie de guerra santa: a minha inocência é assassina.
– Quero eu dizer que qualquer resposta seria uma arrogância, um erro para os resultados da acção. O conceito célebre, o celebérrimo, de que o poema é um objecto –bom, tornou-se um lugar-comum, já nem sequer se pensa nisso, diz-lo toda a gente: os poemas são objectos–, ora esse conceito estabeleceu-se num terreno móvel, movediço, sim objectos, mas como paramentos, ornamentos e instrumentos: as máscaras, os tecidos, as peles e tábuas pintadas, os bastões, as plumas, as armas, as pedras mágicas. É prático sempre o uso que deles se faz, uma resposta necessária ao desafio das coisas ou à sua resistência e inércia. No entanto, repare, ou actuamos nas zonas do quotidiano de onde não foi afugentado o maravilhoso ou existem outras zonas, um quotidiano da maravilha, e então o poema é objecto carregado de poderes magníficos, terríficos: posto no sítio certo, no instante certo, segundo a regra certa, promove uma desordem e uma ordem que situam o mundo num ponto extremo: o mundo acaba e começa. Aliás não é exactamente um objecto, o poema, mas um utensílio: de fora parece um objecto, tem as suas qualidades tangíveis, não é porém nada para ser visto mas para manejar. Manejamo-lo. Acção, temos aquela ferramenta. A acção é a nossa pergunta à realidade: e a resposta, encontramo-la aí: na repentina desordem luminosa em volta, na ordem da acção respondida por uma espécie de motim, um deslocamento de tudo: o mundo torna-se um facto novo no poema, por virtude do poema –uma realidade nova. Quando apenas se diz que o poema é um objecto, confunde-se, simplifica-se; parece realmente um objecto, sim, mas porque o mundo, pela acção dessa forma cheia de poderes, se encontra nela inscrito: é registo e resultado dos poderes. E temos essa forma: a forma que vemos, ei-la: respira, pulsa, move-se –é o mundo transformado em poder da palavra, em palavra objectiva inventada, em irrealidade objectiva. Se dizemos simplesmente: é um objecto – inserimos no elenco de emblemas que nos rodeia um equívoco melindroso, porque um objecto pode ser útil ou decorativo, e a poesia não o pode ser nunca. É irreal, e vive.
Quando olho para esse livro, vejo que não fabriquei ou construí ou afeiçoei objectos –estas palavras não supõem o mesmo modo de fazer–, vejo que escrevi apenas um poema, um poema em poemas; durante a vida inteira brandi em todas as direcções o mesmo aparelho, a mesma arma furiosa. Fui um inocente, porque só se consegue isso como inocência. E se a inocência é uma condição insubstituível do escândalo, uma transparente e mobilizadora familiaridade com a terra, constitui, também um revés: pois há uma altura em que se sabe: as coisas ludibriaram-nos, ludibriámo-nos nas coisas; a inocência deveria ter-nos oferecido uma vida estupenda, um tumulto: o ar em torno proporcionado como pura levitação; ver, tocar; os mais simples actos e factos próximos como instantâneo e completo conhecimento. Era assim, foi assim, mas a dor, as vozes demoníacas, o abismo junto à dança, a noite que se vai insinuando a toda a altura e largura da luz, tudo isso invade a inocência –e então já não sabemos nada, por exemplo: será inocente a nossa inocência? A inocência é um estado clandestino na ditadura do mundo; tem de ser astuta, tem de recorrer a todas as torpezas para lutar e escapar; seduz as criaturas, responde à memória com a memória, a sua fala perante o demoníaco entretece-se com a fala demoníaca. E temos assim a inocência envolvida nas turvações da guerra, e é o guerreiro quem alimenta a guerra, é ele que alimenta o outro guerreiro, a sombra. Na verdade a inocência não existe, não existe o demoníaco, senão como partes dinâmicas de um poder, e não exprimo aqui nenhuma ideia moral, política, institucional, mas uma ideia da ordem das coisas, forças e expressões. A magia, esse reino tão complexo de poder, é um casamento natural mas dramático, uma coordenada desavença de níveis de consciência, formulações do desejo, domínios da realidade, debates da pessoa com a realidade. O objecto que eu agito mortiferamente é uma arma ambígua. Como se eu estivesse metido numa espécie de guerra santa: a minha inocência é assassina.
 – A sua concepção da poesia assenta portanto na ideia do exercício de um poder.
– A sua concepção da poesia assenta portanto na ideia do exercício de um poder.– O poder de decompor a palavra do mundo, quero dizer: a realidade, embora não saibamos do que se trata, isto: poder e realidade. Não é completamente inteligível: só percebemos no e com o acto de brandir o objecto furioso que somos em palavra, em aliança demoníaca e inocente, no meio da malha de imagens em que tudo se apresenta. Mas este poder, que é um poder mágico, comporta riscos: muitas vezes vira-se o feitiço contra o feiticeiro – uns enlouquecem, outros suicidam-se, há também aqueles que ficam misteriosamente mudos ou estéreis, e aqueles ainda que se põem às voltas a falar, o pior, os mortos sonoros: atiram poeira para cima, estes, seriam mais bonitos crucificados. Ora é preciso intoxicar-se com a paixão do perigo, desenvolver-se a gente dentro dessa paixão: porque o ouro e a prata se escondem em recessos de floresta, fundos de mina, terras depois da água. A paixão é a moral da poesia: arrisquem a cabeça se querem entender; arrisquem o corpo, a sua medida, se pretendem descobrir o centro do corpo; e sim, arrisquem sobretudo o nome pessoal para ouvirem o nome de baptismo como o coroado nome da terra. De sorte que esse tal poder é o da própria paixão: ninguém consegue aventurar-se na poesia coleccionando objectos – estátuas, estatuetas, jóias, devem ser jóias vivas, olhos de leoas maternas, insuportáveis coisas que nos contemplam, morre-se de ser assim contemplado. E então é necessária uma nobreza indizível, por exemplo: fixar de frente os olhos maternos, leoninos, e os nossos olhos ficam calcinados – o episódio, conheciam-no antigos: dizia-se que os deuses cegavam quem os olhasse. Refiro-me a essa nobreza: como se deixássemos de ser nós mesmos, uma espécie de imassibilidade enquanto se vai ficando cego na floresta das leoas.
– Não é um pouco enfático, isso?
– É muito enfático para um espírito moderno. Não sou moderno, eu. A ênfase sublinha por um lado o carácter extremo da poesia e por outro a sua natureza extremamente dúbia de prática destruidora e criadora, e do segredo jubilatório dessa duplicidade; sublinha também, escandalosamente, o sentido não intelectual, supra-racional, corporal, do poder da imaginação poética para animar o universo e identificar tudo com tudo. A cultura moderna tornou-se incapaz de tal ênfase, pois trata-se de uma cultura alimentada pelo racionalismo, a investigação, o utilitarismo. Se se pedir à cultura moderna para considerar o espírito enfático da magia, a identificação do nosso corpo com a matéria e as formas, toda a modernidade desaba. Porque o espírito enfático existe pela subtracção dos elementos em que se funda essa cultura. É forçoso ir longe, aos recônditos do tempo, ir beber nas noites ocultas. Parece que a física, agora, começa a trabalhar no sentido da pergunta poética: as coisas têm entre si relações de mistério, não relações de causa e efeito. Abre-se caminho através da obscuridade, inquirindo, seguindo adiante.
– É muito enfático para um espírito moderno. Não sou moderno, eu. A ênfase sublinha por um lado o carácter extremo da poesia e por outro a sua natureza extremamente dúbia de prática destruidora e criadora, e do segredo jubilatório dessa duplicidade; sublinha também, escandalosamente, o sentido não intelectual, supra-racional, corporal, do poder da imaginação poética para animar o universo e identificar tudo com tudo. A cultura moderna tornou-se incapaz de tal ênfase, pois trata-se de uma cultura alimentada pelo racionalismo, a investigação, o utilitarismo. Se se pedir à cultura moderna para considerar o espírito enfático da magia, a identificação do nosso corpo com a matéria e as formas, toda a modernidade desaba. Porque o espírito enfático existe pela subtracção dos elementos em que se funda essa cultura. É forçoso ir longe, aos recônditos do tempo, ir beber nas noites ocultas. Parece que a física, agora, começa a trabalhar no sentido da pergunta poética: as coisas têm entre si relações de mistério, não relações de causa e efeito. Abre-se caminho através da obscuridade, inquirindo, seguindo adiante.
– Não se propôs o surrealismo recuperar certos princípios implícitos nessa ênfase…?
– O surrealismo foi um equívoco, uma soma de equívocos. Breton, que principiara pelas reverências parisienses a Valéry, cai de repente em Viena, põe-se a devorar o dr. Freud. Valéry representa aquilo mesmo que pode servir de insulto contra qualquer pessoa: você é um intelectual francês! Quanto à psicanálise, eis a doutrina por excelência corruptora da sacralidade: o modo pior de fazer perguntas; são perguntas destinadas a obter respostas. Encontramo-nos no círculo fechado da modernidade. Em Freud vê-se logo o mitólogo impuro, o criador de ficções apriorísticas. Estava destinado a fazer escola. Vê-se nele o tortuoso burguês austríaco do começo do século, ainda por cima judeu, um burguês judeu em conflito com o moralismo judaico. Estava destinado a envenenar tudo. O tipo de intelectual exemplarmente, implacavelmente, sinistramente pronto para conceber um sistema familiar à global degradação moderna. Breton devorou-o. Quando falaram a D. H. Lawrence do “complexo de Édipo” – que, arranje-se outro nome, é algo muito mais extenso e profundo, mais complexo, e sobretudo mais exaltante, e fundamentalmente religioso – ele tapou os ouvidos: era uma profanação! Poderia ter protestado: não corrompam a sacralidade das grandes alianças humanas, não destruam a terra, não tragam pobreza à terra! Pois engoliu aquilo tudo, o outro, Breton. Talvez se pensasse que estava empanturrado. Não estava. Foi o Marx, que ao tempo mais opíparo que hoje, e devorou-o também. Agora tínhamos o materialismo dialéctico, a luta de classes, a mais-valia; tínhamos a exaltação economicista. Enquanto se praticava a retórica do amor e da liberdade. Deitaram-se ainda na sopa de legumes umas especiarias leves: o cadáver esquisito, a escrita automática (técnica para ajudar a eclosão do inconsciente freudiano, dizia-se), os delírios simulados, o acaso objectivo, etc., especiarias leves, truques. Pronta para servir, a sopa. Breton era um sargento rancheiro, um sargento irascível e peremptório. Ou comiam daquilo, todos, ou levavam nas trombas; era a tropa. Bem, prestou alguns serviços involuntários. Artaud apoiou-se na disciplina do regimento para desertar num salto louco; algumas referências surrealistas foram úteis, à distância, para Michaux. Tudo enriquece a originalidade dos espíritos originais. Artaud e Michaux agarraram em duas ou três colheradas da mixórdia de foram-se com elas, prepararam o seu festim mirífico: não há nada nas iguarias deles que saiba a rancho. Alguns mais, em longe, em fala estrangeira. Tão longe! Eram outras sopas, outros festins. Também as houve intragáveis, longe, mas não se comeu tanto das sopas obrigatórias. E, meu Deus, isso passou-se há tanto tempo! Acabou.
Sente-se um tremor secreto na palavra, desde a origem, desde as invocações e imprecações dos feiticeiros, dos xamãs, dos hierofantes; esse tremor desaparece de súbito e um dia reaparece; sempre assim ao longo da história da palavra; deve-se ao surrealismo, numa época sem tremor, ter dito que ele existia: alguns surrealistas, não muitos, nunca são muitos, tinham os pés colocados sobre a linha sísmica que atravessa a terra, e vê-se que tremiam dos pés à cabeça, a sua palavra tremia na boca furiosamente enfática.
– O surrealismo foi um equívoco, uma soma de equívocos. Breton, que principiara pelas reverências parisienses a Valéry, cai de repente em Viena, põe-se a devorar o dr. Freud. Valéry representa aquilo mesmo que pode servir de insulto contra qualquer pessoa: você é um intelectual francês! Quanto à psicanálise, eis a doutrina por excelência corruptora da sacralidade: o modo pior de fazer perguntas; são perguntas destinadas a obter respostas. Encontramo-nos no círculo fechado da modernidade. Em Freud vê-se logo o mitólogo impuro, o criador de ficções apriorísticas. Estava destinado a fazer escola. Vê-se nele o tortuoso burguês austríaco do começo do século, ainda por cima judeu, um burguês judeu em conflito com o moralismo judaico. Estava destinado a envenenar tudo. O tipo de intelectual exemplarmente, implacavelmente, sinistramente pronto para conceber um sistema familiar à global degradação moderna. Breton devorou-o. Quando falaram a D. H. Lawrence do “complexo de Édipo” – que, arranje-se outro nome, é algo muito mais extenso e profundo, mais complexo, e sobretudo mais exaltante, e fundamentalmente religioso – ele tapou os ouvidos: era uma profanação! Poderia ter protestado: não corrompam a sacralidade das grandes alianças humanas, não destruam a terra, não tragam pobreza à terra! Pois engoliu aquilo tudo, o outro, Breton. Talvez se pensasse que estava empanturrado. Não estava. Foi o Marx, que ao tempo mais opíparo que hoje, e devorou-o também. Agora tínhamos o materialismo dialéctico, a luta de classes, a mais-valia; tínhamos a exaltação economicista. Enquanto se praticava a retórica do amor e da liberdade. Deitaram-se ainda na sopa de legumes umas especiarias leves: o cadáver esquisito, a escrita automática (técnica para ajudar a eclosão do inconsciente freudiano, dizia-se), os delírios simulados, o acaso objectivo, etc., especiarias leves, truques. Pronta para servir, a sopa. Breton era um sargento rancheiro, um sargento irascível e peremptório. Ou comiam daquilo, todos, ou levavam nas trombas; era a tropa. Bem, prestou alguns serviços involuntários. Artaud apoiou-se na disciplina do regimento para desertar num salto louco; algumas referências surrealistas foram úteis, à distância, para Michaux. Tudo enriquece a originalidade dos espíritos originais. Artaud e Michaux agarraram em duas ou três colheradas da mixórdia de foram-se com elas, prepararam o seu festim mirífico: não há nada nas iguarias deles que saiba a rancho. Alguns mais, em longe, em fala estrangeira. Tão longe! Eram outras sopas, outros festins. Também as houve intragáveis, longe, mas não se comeu tanto das sopas obrigatórias. E, meu Deus, isso passou-se há tanto tempo! Acabou.
Sente-se um tremor secreto na palavra, desde a origem, desde as invocações e imprecações dos feiticeiros, dos xamãs, dos hierofantes; esse tremor desaparece de súbito e um dia reaparece; sempre assim ao longo da história da palavra; deve-se ao surrealismo, numa época sem tremor, ter dito que ele existia: alguns surrealistas, não muitos, nunca são muitos, tinham os pés colocados sobre a linha sísmica que atravessa a terra, e vê-se que tremiam dos pés à cabeça, a sua palavra tremia na boca furiosamente enfática.
–Infiro que para si a prosa, a escrita horizontal, não possui esse carácter revulsivo, mágico, religioso.
–Não existe prosa. A menos que se refiram os escritos, em prosa ou verso, que pretendem ensinar. Não há nada a ensinar embora haja tudo a aprender. Aquilo que se aprende vem do nosso próprio ensino, vem da pergunta; vão-se aprendendo, pelas esperas, pela imobilidade às portas, pela invisibilidade dos rostos depois de vistos tão prometedoramente, pela emenda sucessiva, pela insónia sucessiva dos olhos e das figurações, sempre, vão-se aprendendo sempre as maneiras da pergunta. Uma pergunta em perguntas, um poema em poemas, uma rebarbativa constelação de objectos ofuscantes. Aprende-se que a pergunta se desloca com a luz inerente; ilumina-se a si mesma, a pergunta constelar; ensina a si mesma, ao longo de si mesma, os estilos de ser dotada dessa luz para fora e para dentro. Leio romances desde que perceba que não estão a responder. Alguns são extraordinárias máquinas interrogativas: “Ulisses”, “Filhos e Amantes”, “O Doutor Fausto”, “O Processo”, “A Morte de Virgílio”, “O Som e a Fúria”, “Debaixo do Vulcão”, “A Obra ao Negro”, “Lolita”, “Diário do Ladrão”, todos os romances de Celine como se fossem um só, alguns outros, antes, agora. Os romances de Agustina Bessa-Luís, porventura os menos amados, são entre nós as quase únicas máquinas vivas de perguntar. Existem romances imperdoáveis, quase todos os romances contemporâneos são imperdoáveis. Como é imperdoável a maioria dos poemas portugueses deste século. A bem dizer não há nada. Preciso ir lá atrás, vou às Canções camoneanas, a Babel e Sião, a esse poema lírico, espiritual, secreto chamado Os Lusíadas, tão soberano que se confunde com a mais nobre pergunta. Basta-me para o tempo inteiro em palavra portuguesa.
–Não existe prosa. A menos que se refiram os escritos, em prosa ou verso, que pretendem ensinar. Não há nada a ensinar embora haja tudo a aprender. Aquilo que se aprende vem do nosso próprio ensino, vem da pergunta; vão-se aprendendo, pelas esperas, pela imobilidade às portas, pela invisibilidade dos rostos depois de vistos tão prometedoramente, pela emenda sucessiva, pela insónia sucessiva dos olhos e das figurações, sempre, vão-se aprendendo sempre as maneiras da pergunta. Uma pergunta em perguntas, um poema em poemas, uma rebarbativa constelação de objectos ofuscantes. Aprende-se que a pergunta se desloca com a luz inerente; ilumina-se a si mesma, a pergunta constelar; ensina a si mesma, ao longo de si mesma, os estilos de ser dotada dessa luz para fora e para dentro. Leio romances desde que perceba que não estão a responder. Alguns são extraordinárias máquinas interrogativas: “Ulisses”, “Filhos e Amantes”, “O Doutor Fausto”, “O Processo”, “A Morte de Virgílio”, “O Som e a Fúria”, “Debaixo do Vulcão”, “A Obra ao Negro”, “Lolita”, “Diário do Ladrão”, todos os romances de Celine como se fossem um só, alguns outros, antes, agora. Os romances de Agustina Bessa-Luís, porventura os menos amados, são entre nós as quase únicas máquinas vivas de perguntar. Existem romances imperdoáveis, quase todos os romances contemporâneos são imperdoáveis. Como é imperdoável a maioria dos poemas portugueses deste século. A bem dizer não há nada. Preciso ir lá atrás, vou às Canções camoneanas, a Babel e Sião, a esse poema lírico, espiritual, secreto chamado Os Lusíadas, tão soberano que se confunde com a mais nobre pergunta. Basta-me para o tempo inteiro em palavra portuguesa.
–Nunca pensou em escrever um romance?
–Sou um autor de folhetos, acho que interrogativos, e sobretudo, um muito interrogativo leitor de perguntas. Mais nada.
–Sou um autor de folhetos, acho que interrogativos, e sobretudo, um muito interrogativo leitor de perguntas. Mais nada.
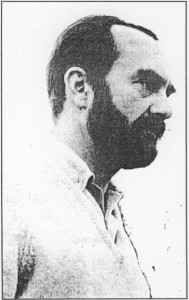 –Basta para uma vida?
–Basta para uma vida?–Nem sei se basta para uma verdadeira morte. Nada é suficiente para se morrer. Ou é suficiente cruzar os olhos com os de uma leoa materna. Ou brandir esse pequeno objecto eléctrico, embora seja tão pequeno e a noite por todos os lados do quarto pareça interminável. Conheci um homem, um psiquiatra descontente –são raros, os psiquiatras descontentes, conheço-os muito contentes a ganhar para enlouquecer as pessoas, rende tanto como a política, trata-se de política, a sinistra política dos tratamentos–, vivia numa ilha, este, descontente, adorava falar de estrelas, constelações, sabia tudo, mas era, digamos, estelarmente irredutível: estava contra a ordem celeste. Mandou substituir o tecto do quarto de dormir por uma abóbada com um sistema electrónico de corpos celestes, deslocados, todos, relativamente à estrutura natural, autónomos entre si. Ali era a lua nas suas fases e as Ursas e o Cruzeiro do Sul e a estrela Arcturus: um sistema de teclas permitia acender aquilo que se desejasse. O que vigorava era um céu dele, era ele. Talvez pudesse morrer. De facto morreu mas náo sei de que maneira interior morreu. Nunca se sabe aquilo que basta. Talvez baste um poema, uma coisa mínima, viva, nossa, uma coisa sub-reptícia para empunhar diante do implacável acordo das formas exteriores. Também pode ser que nada baste. E nesse caso tanto faz escrever um romance ou cem poemas ou apenas um poema, ou ler ou emendar o céu astronómico ou manter-se parado no meio de um jardim húmido e silencioso, à noite. Até pode suceder que a morte não seja bastante. E isto sim é interrogativo.
–Os outros estão envolvidos na pergunta?
–Depende do sitio de onde se faz a pergunta. Há quem diga: não escrevo para os outros, ou: o interlocutor é inlocalizável. Os críticos respondem quase sempre à pergunta que não está ali para qualquer resposta. Conhece aquelas engenhosas “canções de eco” em que o poeta, supostamente num lugar ecoante, um vale rodeado por montanhas, algo assim, profere a palavra, e logo o eco a devolve ou expande? É a confirmação de fora. Claro, trata-se de um artifício formal, pois o poema confirma-se a si mesmo, em si mesmo. O facto de não ser uma voz alheia, de outro, mas enfim “a voz da natureza”, a voz dos vales e montanhas, sugere que a participação não pertence aos homens, que se não estabeleceu uma troca humana. E deste modo a natureza, cercando e confirmando o poema, conluiando-se com ele, torna-o como que centrado em si, monstruosamente solitário.
Todos os poemas são canções de eco, procuram ser confirmados. De que sitio se lança a voz, que género de confirmação se pretende? A confirmação, sempre, do poema a si mesmo e em si mesmo. Mas que recursos se utilizam para obter essa confirmação? A forma é o conteúdo, sabe-se, o estratagema do eco representa a atitude total do autor perante sentidos do seu poema, os sentidos do poema no mundo, a vida pessoal na vida. Há quem se ponha no centro de câmaras ecoantes: e os ecos chegam de todos os lados: as respostas caóticas, o êxito, o erro, a morte da alma.
Num poema escrito após o clamor elogioso a “Under the Volcano”, Malcolm Lowry diz que o sucesso é uma catástrofe terrível, pior que o incêndio da nossa casa; chama-lhe danação; diz que devora a casa da alma; ele, o glorificado, teria preferido soçobrar na noite. “Fundir-me, só, para sempre, na obscuridade, na noite”:
–Depende do sitio de onde se faz a pergunta. Há quem diga: não escrevo para os outros, ou: o interlocutor é inlocalizável. Os críticos respondem quase sempre à pergunta que não está ali para qualquer resposta. Conhece aquelas engenhosas “canções de eco” em que o poeta, supostamente num lugar ecoante, um vale rodeado por montanhas, algo assim, profere a palavra, e logo o eco a devolve ou expande? É a confirmação de fora. Claro, trata-se de um artifício formal, pois o poema confirma-se a si mesmo, em si mesmo. O facto de não ser uma voz alheia, de outro, mas enfim “a voz da natureza”, a voz dos vales e montanhas, sugere que a participação não pertence aos homens, que se não estabeleceu uma troca humana. E deste modo a natureza, cercando e confirmando o poema, conluiando-se com ele, torna-o como que centrado em si, monstruosamente solitário.
Todos os poemas são canções de eco, procuram ser confirmados. De que sitio se lança a voz, que género de confirmação se pretende? A confirmação, sempre, do poema a si mesmo e em si mesmo. Mas que recursos se utilizam para obter essa confirmação? A forma é o conteúdo, sabe-se, o estratagema do eco representa a atitude total do autor perante sentidos do seu poema, os sentidos do poema no mundo, a vida pessoal na vida. Há quem se ponha no centro de câmaras ecoantes: e os ecos chegam de todos os lados: as respostas caóticas, o êxito, o erro, a morte da alma.
Num poema escrito após o clamor elogioso a “Under the Volcano”, Malcolm Lowry diz que o sucesso é uma catástrofe terrível, pior que o incêndio da nossa casa; chama-lhe danação; diz que devora a casa da alma; ele, o glorificado, teria preferido soçobrar na noite. “Fundir-me, só, para sempre, na obscuridade, na noite”:
A glória é como uma terrível catástrofe, / pior que a casa incendiada; enquanto / se abate a trave-mestra, o fragor / da destruição repercute-se cada vez mais depressa: / e tu contemplas tudo aquilo, inane/ testemunha da danação. // Como uma bebedeira a glória devora / a casa da alma, revela que trabalhaste / para coisa pouca: para ela – / ah, queria que esse beijo traiçoeiro nunca tivesse/ molhado a minha face: queria / fundir-me, só, para sempre, na obscuridade, na noite.
E começa então a entrever-se que a voz se não dirige propriamente a alguém mas procura constituir-se numa ordem da alma: propõe enigmas, formula um voto redentor. Porque alguém escuta dentro do poema que fala a essa instância, que pode ou não prolongar-se para o exterior, é salva pela voz como a voz é salva pelo íntimo ouvido que a recebe. É enfático, isto, sim; não é moderno nem racional nem sartreano, ou melhor mesmo que sartreano; nada tem a ver com os “testemunhos do tempo”; pertence aos prodígios da alma, aos seus desastres e regenerações. Quanto ao mundo, o poema espera tudo dele menos o equívoco, embora seja o equívoco aquilo que se encontra mais à mão do mundo.
–O poema está então centrado em si mesmo, monstruosamente solitário?
–Não tem pressa, pode bem esperar que o arranquem da sua solidão, possui forças expansivas bastantes, façam-no sair dali. Mas ou levam-no inteiro com o centro no centro e armado à volta como um corpo vivo ou não levam nada, nem um fragmento. E o que muitas vezes se faz é contrabandear bocados: leva-se a parte errada dele na parte errada de nós para qualquer parte errada: filosofia, moral, política, psicanálise, linguística, simbologia, literatura-Onde estão o corpo e a vida dele e a sua integridade? Onde, a solidão para escutar a solidão daquela voz? Porque é obrigatório dizê-lo: pouca gente tem ouvidos puros. Ou mãos limpas. Ler um poema é poder fazê-lo, refazê-lo: eis o espelho, o mágico objecto do reconhecimento, o objecto activo da criação do rosto. O eco visual se quanto a rostos fosse apenas tê-los fora e ver. Porque o mostrado e o visto são a totalidade de aquilo que se mostra e vê—o nome: a revelação.
–Não tem pressa, pode bem esperar que o arranquem da sua solidão, possui forças expansivas bastantes, façam-no sair dali. Mas ou levam-no inteiro com o centro no centro e armado à volta como um corpo vivo ou não levam nada, nem um fragmento. E o que muitas vezes se faz é contrabandear bocados: leva-se a parte errada dele na parte errada de nós para qualquer parte errada: filosofia, moral, política, psicanálise, linguística, simbologia, literatura-Onde estão o corpo e a vida dele e a sua integridade? Onde, a solidão para escutar a solidão daquela voz? Porque é obrigatório dizê-lo: pouca gente tem ouvidos puros. Ou mãos limpas. Ler um poema é poder fazê-lo, refazê-lo: eis o espelho, o mágico objecto do reconhecimento, o objecto activo da criação do rosto. O eco visual se quanto a rostos fosse apenas tê-los fora e ver. Porque o mostrado e o visto são a totalidade de aquilo que se mostra e vê—o nome: a revelação.
–Não é um destino assegurado.
–Só é seguro que a pergunta, a procura, o poema reincidente, cristalizam numa grande massa translúcida, um bloco de quartzo. Talvez seja tranquilizador quando olhado de fronte, ali, no chão, do tamanho da casa: parece nascer ininterruptamente. A luz vem de dentro, funda e aguda luz terrestre. Excretou-se de nós, a massa cristalina, fundimo-nos nela, carne da nossa carne, casa da nossa casa. E na hora do apocalipse biográfico, quando as águas envolveram a história, a vida, a obra da obra, veremos tudo: morremos daquilo, levados para o abismo pelo irrevocável peso extraído, um peso maior que os trabalhos e os dias. E quem sabe se não veremos então, através do cristal regular, limpidamente, a enfim aplacada confusão do mundo? Isto é uma pergunta, agora. Alimentamo-nos dela, também nos alimentamos dela. Aquilo que fazemos, oh sim, é isso que nos faz e desfaz, a vida que fazemos, a nossa vida em pergunta telepática. Morremos dela.
–Só é seguro que a pergunta, a procura, o poema reincidente, cristalizam numa grande massa translúcida, um bloco de quartzo. Talvez seja tranquilizador quando olhado de fronte, ali, no chão, do tamanho da casa: parece nascer ininterruptamente. A luz vem de dentro, funda e aguda luz terrestre. Excretou-se de nós, a massa cristalina, fundimo-nos nela, carne da nossa carne, casa da nossa casa. E na hora do apocalipse biográfico, quando as águas envolveram a história, a vida, a obra da obra, veremos tudo: morremos daquilo, levados para o abismo pelo irrevocável peso extraído, um peso maior que os trabalhos e os dias. E quem sabe se não veremos então, através do cristal regular, limpidamente, a enfim aplacada confusão do mundo? Isto é uma pergunta, agora. Alimentamo-nos dela, também nos alimentamos dela. Aquilo que fazemos, oh sim, é isso que nos faz e desfaz, a vida que fazemos, a nossa vida em pergunta telepática. Morremos dela.
